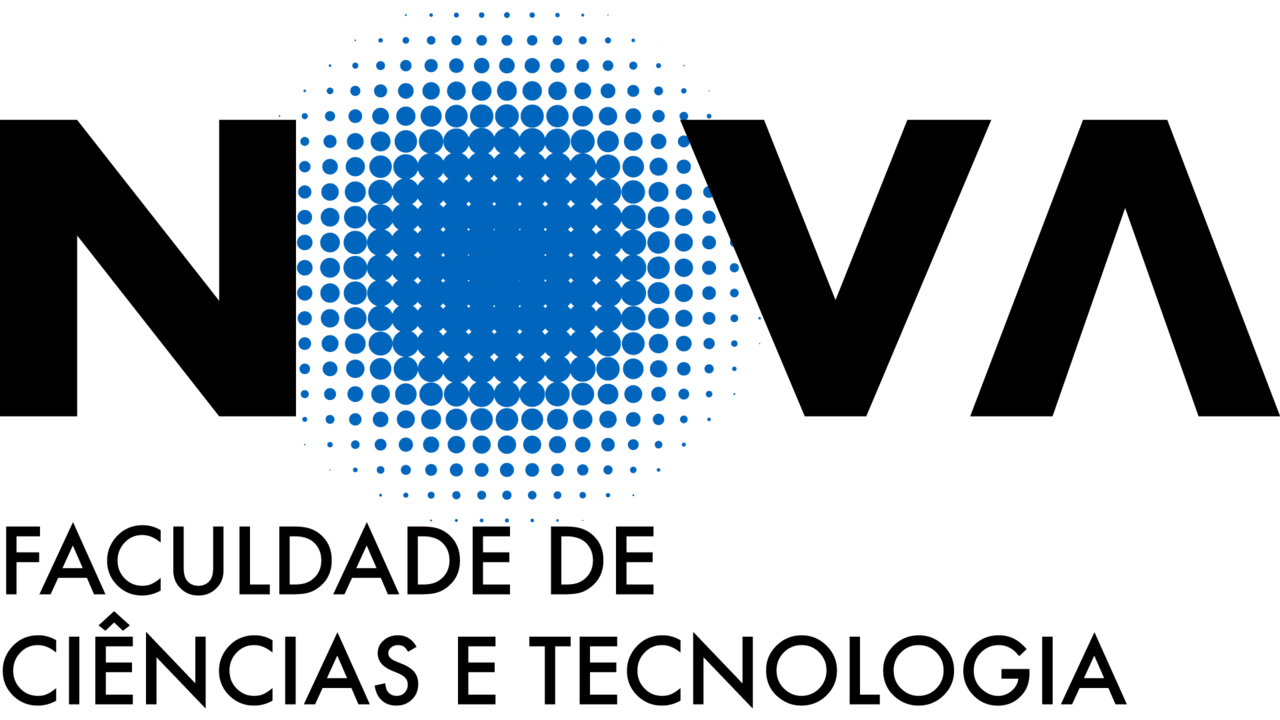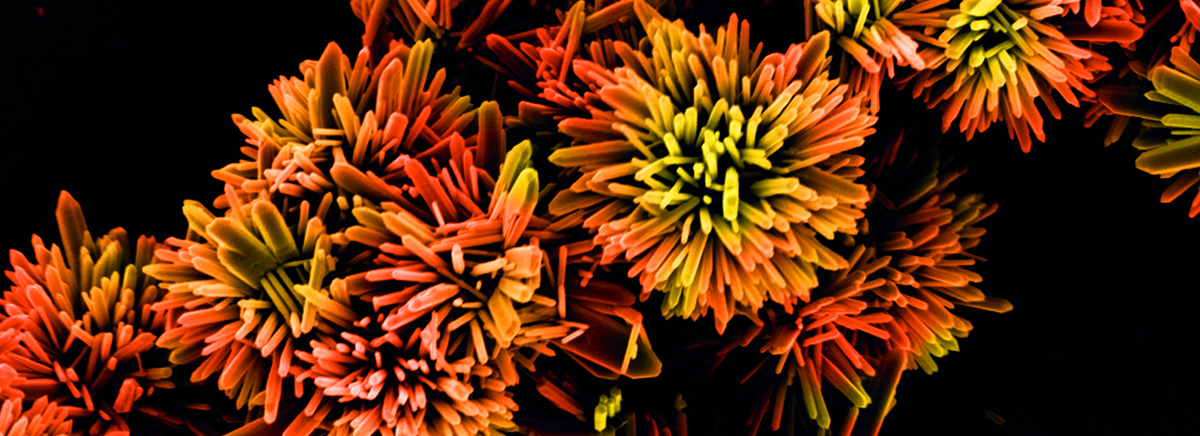
Jornal Económico - Entrevista à Professora Elvira Fortunato: “O supermercado é uma excelente fonte de ideias para investigação”

03 Jun 2017
Milhões de pessoas confluíram na net para discutir uma invenção que muitos julgávamos ser apenas possível em filmes de ficção científica. Nada disso, é real e, como em todas as suas investigações, utiliza materiais comuns, de baixo custo, amigos do ambiente e cem vezes mais rápidos, que oferecem melhores soluções. Apetece dizer “melhor é impossível”, mas seria um erro da nossa parte, pois a sua máxima é precisamente “não há impossíveis no laboratório”.
Quando chegámos ao Centro de Investigação de Materiais (CENIMAT), disseram-nos que a Profª. Elvira estava no anfiteatro. A curiosidade falou mais alto e quisemos ouvir o que estava a ser dito num dos seminários que o Centro promove à hora do almoço para que todos – alunos, professores, investigadores – estejam a par do que uns e outros fazem.
Um jovem indiano explica em inglês alguns pormenores das imagens que vemos projetadas num ecrã. Elvira Fortunato encontra-se na plateia e faz algumas perguntas. Outros elementos da assistência intervêm. Trocam-se ideias, levantam-se dúvidas e faz-se uma curta viagem às Caldas de Monchique a propósito das suas águas alcalinas, cujo Ph característico é de 9,5. O jovem estudante regista a informação e a sugestão dada pela Profª. Elvira, de usar a água de Monchique na sua experiência. É hora da entrevista, que começa a caminho do seu gabinete.
Quantos alunos tem a faculdade de Ciência e Tecnologia?
Só neste campus temos 8 mil alunos. A Universidade Nova tem, ao todo, 19 mil.
Neste pequeno anfiteatro, vimos uma pequena amostra da diversidade de nacionalidades que frequentam a faculdade. Há alguma que prevaleça?
Sim, a indiana.
É habitual promoverem iniciativas deste género?
Fazemos seminários regularmente porque cada aluno vem complementar a atividade que aqui desenvolvemos. E é sempre bom falarem da experiência que têm. Como já somos muitos, é habitual fazermos estes seminários, mais a pensar nos alunos de doutoramento e pós-DOC, que estão mais focados num dado trabalho, para saberem o que uns e outros andam a fazer.
Ajuda a criar ‘redes’ de contacto e de conhecimento entre os alunos, é isso?
Sim, claro. Até porque aqui temos uma equipa multidisciplinar, não somos todos da mesma área, e privilegiamos muito isso. Quando há estas discussões, todos olham de uma maneira diferente: o químico olha de uma maneira, o físico de outra, um cientista de materiais também. Digamos que a diferença está entre ter uma equipa ‘a preto e branco’, ou seja, toda da mesma área, e ter uma equipa como a nossa, que é uma equipa ‘a cores’. [sorriso]
Está por trás da criação do transístor de papel. Pode explicar-nos, numa linguagem acessível a leigos na matéria, que utilizações práticas pode ter?
Uma das áreas primeiras que vai começar aí a aparecer é a área das embalagens inteligentes. Hoje em dia, cada vez mais há uma tendência de substituirmos as embalagens de plástico por embalagens à base de papel e cartão, porque temos um problema imenso nos oceanos: uma quantidade de lixo brutal – embalagens de plástico que não se degradam. Aliás, nem sabemos quanto tempo é que aquilo dura. Nós duramos menos tempo que o tempo que esse material leva a degradar-se. Essa tendência, juntamente com a capacidade que temos de colocar sensores e informação, vai permitir fazer o tracking das embalagens. Por exemplo, embalagens alimentares, nas quais podemos ter sensores que possam indicar a validade do alimento que está lá dentro. Podemos ter uma data na embalagem, mas isso não significa que o alimento não se tenha degradado. Ora, se tivermos um sensor que detete essa situação é um grande progresso. Mas, para que isso aconteça, é preciso que haja uma eletrónica de baixo custo, caso contrário a eletrónica que colocamos na embalagem fica mais cara que o produto que está lá dentro.
Acha que isso pode levar à redução do plástico que usamos no dia a dia?
Sim, a tendência é essa. Temos que desenvolver materiais para eletrónica que sejam competitivos e que sejam uma alternativa a estas novas aplicações. Vamos supor que quero colocar um pequeno mostrador numa embalagem que me dê informações como a temperatura, por exemplo, à base de nanopartículas que sintetizamos e que podemos imprimir em impressoras normalíssimas, como a jato de tinta, ou seja, ter uma eletrónica descartável, degradável e de baixo custo.
Há margem para falhar?
Claro que sim, isso não é um problema. Nem tudo o que fazemos tem sucesso. Nós sabemos muito na área de materiais, mas agora imagine que queremos otimizar um material para otimizar qualquer coisa neste gravador [usado para registar a conversa], mas não funcionou. O material que otimizámos ou que sintetizámos não tem as características adequadas, mas isso não significa que não sirva para esta embalagem. Ou seja, o nosso ‘caixote do lixo’ está sempre vazio. Costumo dizer aos meus alunos que não há materiais bons nem materiais maus, tudo depende da aplicação. Temos um pouco esta visão de uma economia circular em que nada se desperdiça. Faz parte da nossa cultura.
A indústria dialoga com vocês e procura-vos? Trazem sugestões para explorarem, projetos concretos?
Sim, temos as duas vertentes. Posso até dar um exemplo, que é público. No ano passado, assinámos um projeto com a Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) na área do papel. O objetivo não é fazer uma prestação de serviço em que testamos uma coisa que já existe, mas sim desenvolver novos produtos que possam ser usados pela INCM. Isto na área da investigação, o que é excelente!
Podemos saber qual é o objetivo? Envolve papel-moeda?
Só posso dizer que são identificadores de alta segurança – a vários níveis. Não posso avançar mais nada.
E ao nível da indústria do papel?
Neste momento, também temos um projeto a correr com a Navigator.
Fala-se muito no ‘fim’ do papel – o digital é o futuro. Concorda?
É por isso que queremos usar o papel para outras coisas, porque as fotocópias e os livros impressos tendem a desaparecer. Só para lhe dar um exemplo, a minha filha já não usa papel. Nós ainda temos porque somos do “tempo do papel”. Os mais novos usam o computador, o tablet e afins. Por isso, temos de encontrar alternativas para a área do papel. Esse projeto com a Navigator visa explorar novas propriedades – desde tratamentos e acabamentos superficiais –, mas mais para a área de testes de diagnóstico, por exemplo, para detetar doenças. O teste tem a vantagem de poder ser queimado e não cria problemas de contaminação.
Para muitos de nós, essas tecnologias não fazem parte do quotidiano, mas sim do universo cinematográfico. Estou a pensar em “Minority Report”, de Spielberg, por exemplo. Pretexto para lhe perguntar se gosta de cinema.
Gosto, mas não tenho muito tempo para ver. Gosto de ficção científica, mas também de filmes de ação. Aliás, não gosto de ver filmes que me deixem triste ou deprimida. Gosto de filmes em que saia do cinema bem-disposta ou com ideias [sorriso].
Ainda numa vertente lúdica, sei que é uma sportinguista convicta e que gosta de ir ao estádio ver os jogos ao vivo, quando pode. Consegue abstrair-se ou vê o jogo em busca de ideias?
Aí descontraio. Não estou a pensar em transístores nem eletrónica [risos], mas quando vou ao supermercado, por exemplo, muitas vezes procuro ideias… Porque uma das nossas características aqui [no departamento] é precisamente utilizar materiais convencionais para aplicações não convencionais. No caso do papel, que é um material convencionalíssimo, procuramos aplicações que não têm nada a ver com a utilização normal do papel. O mesmo acontece, por exemplo, com as gelatinas ou outros materiais transparentes. Às vezes o supermercado é uma fonte de inspiração! [risos] Atualmente, usamos vitamina C, que é o ácido ascórbico, para sintetizar nanopartículas de ouro e a gelatina para fazer eletrólitos para outro tipo de transístores e várias outras aplicações… O supermercado é uma excelente fonte de inspiração!
Transmite esse ‘universo de possibilidades’ à sua equipa e alunos?
Sim, sim. Às vezes trago coisas que compro no supermercado para testarmos, porque têm propriedades que talvez sirvam para as nossas aplicações.
Neste momento, quantas pessoas integram a sua equipa?
Como fazemos muitas reuniões de grupo – a última foi há menos de um mês –, aproveitámos para fazer o counting e estávamos 60, incluindo alunos de mestrado.
É difícil arranjar massa crítica?
Não, não tem sido difícil.
Foi sempre assim ou depois do êxito que tiveram com a descoberta do transístor de papel passou a ser mais fácil?
Foi sempre assim, incluindo estrangeiros e, em particular, indianos. Mas é como tudo na vida: agora somos mais conhecidos e não passa um dia em que não receba um mail de um indiano a enviar o currículo, que quer vir trabalhar para cá ou obter uma bolsa… E não estou a exagerar! [sorriso]
Em 2008, foi a primeira investigadora portuguesa distinguida com 1º Prémio do ERC, que a projetou – a si e ao seu trabalho – mundialmente. Foi um marco importante, certamente.
Sim, sem dúvida. Mas isto acaba por ser uma bola de neve. E sendo áreas relativamente novas, às vezes a sociedade não sabe que existem, não conhecem. Nas engenharias, muitas vezes os alunos vão para áreas mais tradicionais ou escolhem escolas mais antigas. A nossa é uma universidade nova, tem 40 anos. No fundo, estamos agora a fazer a história da universidade, porque ainda é nova. Não se pode comparar com outras universidades portuguesas centenárias, com história e com muito mais pessoas formadas e no ativo, portanto, toda esta visibilidade não só tem ajudado a dar a conhecer a escola à sociedade em geral como também em termos internacionais. Dá-nos mais visibilidade e credibilidade.
O que mudou desde então?
O prémio foi muito marcante por tudo o que significou na altura e por tudo o que permitiu depois. Foi marcante ao longo dos anos. Dou-lhe um exemplo: permitiu-nos comprar um equipamento que não existia em Portugal e que, cientificamente, nos permitiu dar o ‘salto’ necessário para fazermos uma determinada publicação ou desenvolvermos um determinado projeto. Ainda é assim, aliás. E também nos permitiu consolidar a equipa de investigação com a contratação de mais pessoas. Algumas delas são investigadores tão bons que já receberam prémios e bolsas como a do ERC e que estão cá. Em termos científicos foi profundamente marcante por não ter sido algo pontual, mas por ter impacto ao longo do tempo. Mais. Foi considerada uma história de sucesso pela Comissão Europeia. Eles recebem muitos projetos e, embora todos tenham algum sucesso, alguns têm mais do que outros.
Há muitos alunos que escolhem ficar na faculdade a trabalhar com vocês?
Alguns sim, mas importa ter presente que a investigação é dinâmica – não só ao nível dos assuntos como das pessoas. Muitos optam por regressar aos seus países ou por ir para outras geografias. Retemos talento e há um core que fica, mas o conhecimento tem de ir passando. E alguns vão para empresas, o que é ótimo porque acabam por ser os nossos embaixadores e por conseguir novos projetos com essas empresas e trazer outros para cá.
O facto de o campus estar situado em Almada traz constrangimentos?
Como agora se diz, isso é um ‘mito urbano’.
Ou seja, vale a pena fazer investigação em Portugal?
Claro que vale a pena! Como eu costumo dizer, os eletrões americanos ou japoneses não são diferentes dos portugueses. São todos iguais. É verdade que não temos os mesmos recursos que tem o Reino Unido, por exemplo. Além disso, é importante não esquecer que tivemos uma ditadura. Até mesmo o acesso ao conhecimento é recente. Nós nem acesso ao conhecimento tínhamos e veja o ‘salto’ que o país deu nestes últimos 30 anos! Neste momento há equipas e investigadores que estão lado a lado, em igualdade, com os melhores do mundo. No passado não era assim, mas talvez isso seja até mais positivo porque significa que, com mais adversidades, conseguimos chegar onde os outros chegaram com mais tempo e facilitismos.
Há um antes e um depois de Mariano Gago?
Sem dúvida, foi um marco. Estou aqui, se calhar, por causa dele. Além disso, o atual ministro foi secretário de Estado de Mariano Gago e trabalhou com ele muito tempo. Diria que neste momento há uma continuidade e isso é indissociável [da política de Gago].
O CENIMAT afirmou-se pela capacidade competitiva e não pela via dos subsídios de Estado?
Sim, sempre apostámos em projetos europeus e internacionais. Nem sequer no período da troika isso mudou. Foi sempre assim. E começámos do zero! Eu e o meu marido, o Prof. Rodrigo Martins, que é o responsável do grupo, partimos pedra. Isto que está aqui era tudo pedra. Somos um grupo de investigação recente numa universidade nova – não só de nome, mas também em termos de idade – e o laboratório foi construído do zero. Não herdámos um laboratório em funcionamento, não havia uma história.
Falou no seu marido. Conseguem evitar falar de trabalho ou levam os “materiais” para casa?
Não, não conseguimos evitar. Mas não vejo que isso seja um problema. Quando se gosta muito do que se faz é natural que se fale! [risos] Aliás, até com a minha filha isso acontece…
A sua filha escolheu um caminho diferente ou vai seguir as pegadas da mãe?
A minha filha não quer ser conotada por nada deste mundo que é filha de Elvira Fortunato! [risos] É o pior que lhe podem fazer. Por isso, nunca viria para esta faculdade – para não ser identificada. Todos os meus colegas me conhecem e, mais a mais, ela é muito parecida comigo. [risos] Além disso, não há muitos “Fortunatos”… Mas também escolheu a área das ciências, mais concretamente as ciências forenses, que é uma área muito gira e está a gostar imenso! Mas quer seguir um caminho separado da mãe.
É muito exigente com ela?
Acho que a ajudo menos por ser uma pessoa tão conhecida, digamos assim. Ela não quer chegar onde chega por “ser filha de…”. Diria que exagera um bocadinho, mas temos de dar desconto, tem 19 anos…
Falando em jovens, está entre as pessoas que discordam que assistimos hoje a uma “fuga de cérebros”.
A verdade é que também recebemos vários. Dou-lhe um exemplo: um aluno meu no pós-doc foi trabalhar para Cambrigde, esteve lá cinco anos e agora quer vir para Portugal. Assim como há uns que vão para fora, há outros que vêm para cá. Ouve-se muito essa ‘frase’, mas ninguém sabe. Não há números, muitas vezes são apenas boatos. Importa saber quantos investigadores – bons investigadores – entram em Portugal. Por exemplo, a Fundação Champalimaud tem mais estrangeiros do que portugueses e só existe há dez anos. Também tem uma história curta, mas está a atrair alguns dos melhores investigadores na área das neurociências. Num mundo globalizado é inevitável que haja esta circulação de pessoas e conhecimento!
Transmitir conhecimento faz parte do seu dia a dia, na qualidade de investigadora e de professora. Continua a dar-lhe gozo ensinar?
Sim, muito. Ainda hoje dei aulas de microeletrónica e é fantástico! É um contacto direto que mantenho com os alunos e uma oportunidade de identificar aqueles que são bons e de os convencer a ficar connosco. [sorriso]
Teve algum professor/a que a marcasse particularmente?
Tive uma professora que era de um rigor científico muito grande. Aliás, na ciência só podemos trabalhar com muito rigor.
E como se vê a si própria na qualidade de professora?
Acho que não sou uma professora muito rígida. Ponho os meus alunos à vontade e gosto de trabalhar de porta aberta num ambiente bastante informal. No fundo, acabamos por ser todos uma família. Passamos aqui muito tempo uns com os outros, mais do que em casa…
Nada disso, há troca de ideias e de pontos de vista. Aliás, na investigação não pode ser de outra maneira. Temos de estimular e dar liberdade à criatividade do aluno. Não é o professor que faz o aluno, o professor ajuda. O ‘bichinho’ da criatividade está lá, nós orientamos.
Mais recentemente, abraçou um novo desafio e passou a integrar o grupo de sete conselheiros do comissário Carlos Moedas para a Investigação, Ciência e Inovação. Qual é o vosso papel?
São-nos pedidos conselhos sobre vários assuntos. No primeiro encontro em que participei, debruçámo-nos sobre as emissões de CO2 das viaturas ligeiras, porque existia um hiato entre as emissões reais e aquelas que o fabricante diz existirem. Na prática emitem mais 40%. O teste que é feito hoje em dia é perfeitamente irreal. A Comissão quer legislar, e vai entrar este ano em vigor uma nova legislação, para que o teste feito pelos fabricantes se aproxime da realidade. Isso é muito importante. E outra questão que está sobre a mesa e que está a ser estudada, visto a população mundial estar a aumentar, é a comida que existe nos oceanos. Há problemas que carecem de legislação nessa matéria, nomeadamente ao nível das quotas [de pesca].
Como se chega a conselheira? É escolhida pelos seus pares, candidata-se…?
Foi um processo por candidatura. Fui selecionada por uma comissão, fiquei na shortlist, depois fiz uma entrevista e… fiquei.
Saiu da entrevista com a impressão de que tinha corrido bem?
Sim. Saí com a impressão que ia ficar.
É uma pessoa intuitiva?
Sou.
E confia na sua intuição?
Sim, confio. [sorriso]
Qual é a sua opinião sobre a burocracia europeia?
Essa é a parte menos positiva.
Não sendo o âmbito do vosso trabalho, há margem para dar conselhos sobre como agilizar a burocracia?
Não propriamente. O nosso trabalho é essencialmente de carácter científico. Esta comissão integra sete cientistas de áreas diferentes e sempre que a Comissão Europeia tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ou quer esclarecer algum problema ou legislar, este grupo pronuncia-se sempre com base em evidências científicas, toma posições muito transparentes e sempre baseadas na Ciência. O que nós fazemos é emitir conselhos e opiniões, mas depois cabe aos políticos decidir se as usam ou não. De qualquer das maneiras, é uma forma que a Comissão tem – mais segura – de poder atuar.
É europeísta?
Sou. Mas há coisas que me incomodam, como o facto de ainda haver pessoas que dizem que Portugal não devia estar na União Europeia…
Depara-se muitas vezes com esse ‘discurso’?
Na comunidade científica não. Refiro-me mais ao que é veiculado nos meios de comunicação social. Aliás, posso dizer que, ao nível da comunidade científica, os ingleses não queriam sair. Ainda estão muito zangados com a história do Brexit. Mas isso não transparece nas notícias que saem nos media.
Se pudesse escolher a “próxima grande descoberta” na sua área de trabalho, qual seria?
Não posso revelar segredos. Só posso dizer que temos muitas coisas giras em mãos. Mas hoje em dia as coisas voam à velocidade da luz, por isso se eu disser aqui hoje uma coisa, amanhã ainda aparece aí um coreano com essa ‘coisa’ feita! [risos]
Consta que a relação com a comunidade científica coreana é muito boa.
Sim, é muito boa. Nestas áreas têm uma grande admiração e respeito por nós. Aliás, até acho que têm maior respeito por nós do que os europeus. E acrescento os americanos e os japoneses. Na Europa, talvez ainda persista a imagem do português que emigrou nos anos 60 em busca de uma vida melhor e que trabalhava como pedreiro ou empregada de limpeza, no caso das mulheres. Eram pessoas com poucas habilitações. Na Europa, os portugueses não são conhecidos por fazerem investigação. Quando se fala nestas áreas, o português ainda está um pouco conotado com essa imagem, e eu já senti isso em vários países europeus, coisa que não sinto na Coreia, no Japão ou nos Estados Unidos. Nestes países tratam-nos de igual para igual.
É vulgar isso acontecer na Europa?
Nalguns países, sim. Por exemplo, ainda recentemente estive num seminário em Leuven, na Bélgica, e um professor teve o descaramento de perguntar se as fotografias dos laboratórios que eu estava a mostrar eram mesmo em Portugal ou se era uma montagem! Ainda persiste um certo estigma…
As adversidades não a demovem. Considera-se uma ‘fazedora’?
Sim, considero-me uma ‘fazedora de coisas’ [sorriso]. Tal como gosto de concluir coisas.
Tem algum traço de personalidade que se destaca dos demais?
Não sei bem… Sou teimosa e também sou muito curiosa, mas creio que isso é muito inerente à minha profissão. A investigação científica tem que ter muita curiosidade, muita imaginação e muita resiliência!
Sente que está a construir o futuro?
Na área em que trabalho, pelo menos, diria que ajudei a construir o futuro.